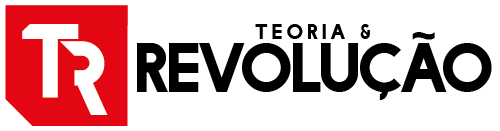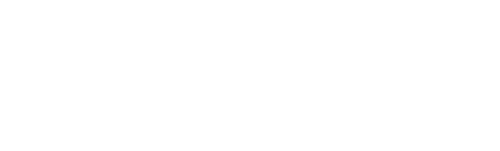O impeachment e a farsa do golpe: em defesa de uma interpretação marxista da democracia liberal
Quase um ano depois do processo de impeachment do governo Dilma, e a despeito de diversos fatos novos terem surgido desde então, todos no sentido de identificar as íntimas relações entre “golpistas e golpeados”, a imensa maioria da esquerda ainda insiste em caracterizar a remoção da ex-presidente de seu posto como uma ruptura institucional, ou seja, como um golpe de Estado.
Não seria exagero dizer que a narrativa do golpe pode ser considerada como o maior conto do vigário na história da esquerda brasileira. O próprio PT, que criou esse discurso como um apelo desesperado para salvar um governo detestado pelas massas e isolado institucionalmente, jamais poderia prever que a sua narrativa seria abraçada de forma tão calorosa pelas organizações de esquerda no Brasil. Enquanto indivíduos como Fernando Haddad, figura pública do PT e ex-prefeito de São Paulo, não conseguem disfarçar o constrangimento dessa farsa, não faltam agrupamentos “marxistas” e até “trotskistas” que denunciam furiosamente, até os dias de hoje, que ocorreu um golpe de Estado no Brasil, ainda que mais “brando” do que aquele de 1964.
Uma questão de método
Formou-se um senso comum na esquerda segundo o qual seria cabível tratar qualquer ruptura institucional como um golpe, independentemente do concurso direto ou indireto das forças armadas. Haveria, assim, o golpismo em formato clássico, ou seja, uma quartelada, e uma versão mais amena, mais sutil, na qual haveria uma quebra da legalidade por forças políticas da esfera civil. Um impeachment sem lastro legal seria, nessa acepção, uma prática golpista, uma quebra da institucionalidade.
Não pode passar despercebido, então, que a análise sobre o impeachment de Dilma como uma ruptura institucional ampara-se fortemente numa leitura jurídica – e também liberal – do ocorrido. Um traço essencial desse “golpe” seria o desrespeito à legalidade a partir do uso de uma medida (a destituição do governo por critérios políticos, e não criminais) própria do parlamentarismo e, dessa forma, estranha ao nosso presidencialismo.
Essa leitura do processo político sob o prisma do direito consiste num erro metodológico monumental. Ela ignora o fato de que o funcionamento do Estado, em sua lógica política, em seu conteúdo de classe, simplesmente não comporta uma interpretação jurídica consequente. O direito pode iluminar determinados aspectos da forma do Estado, os quais não são nada desprezíveis, mas ele não dá conta do elemento político essencial. Pachukanis já advertia que “o Estado, como organização classista de dominação e como organização para a condução de guerras externas, não exige uma interpretação jurídica e, por essência, não a admite. Essa é uma área em que reina a assim chamada raison d’état, ou seja, o princípio de estrita conveniência ((PACHUKANIS, E. A teoria geral do direito e o marxismo e Ensaios escolhidos (1921-1929). Tradução de Lucas Simone (coordenação de Marcus Orione Gonçalves Correia). São Paulo: Sundermann, 2017, p. 168.))”.
De pronto, então, percebe-se o erro em se definir uma figura política de elevada importância (o golpe de Estado) por critérios jurídicos. A intensidade da luta política não cabe e jamais caberá com perfeição dentro dos contornos da legalidade. Mas a esquerda, divorciada que está do marxismo, está longe de captar esse detalhe, e continua enxergando o mundo com as lentes embaçadas do direito, ou melhor, da ideologia jurídica.
A compreensão do impeachment depende, assim, menos do exame das disposições legais e muito mais de uma concepção marxista do Estado e da política. No tocante ao Estado, há que se definir, concretamente, os mecanismos de funcionamento da democracia liberal, que é o regime que dá as referências para toda a discussão. É necessário conhecer bem a natureza e as formas da democracia liberal para que se possa apresentar uma visão isenta de fetiches e de histeria.
A democracia liberal em suas formas e seus funcionamento
A democracia liberal é a forma pela qual o Estado se manifesta em condições de normalidade, é o regime preferencial, por assim dizer, da ordem social capitalista. Esse regime é caracterizado centralmente pelo sufrágio, que consiste no elo principal entre a sociedade civil e o Estado, entre o domínio dos interesses privados e o domínio do interesse público. E a contrapartida do sufrágio é a representação parlamentar, por meio da qual os partidos da ordem, representando as frações de classe e determinados grupos de interesse, disputam entre si os rumos da política estatal.
No sufrágio, cada indivíduo é chamado a exercer sua cidadania, a colocar-se como um átomo indiferenciado no processo decisório nacional, no exercício da soberania popular. Mas isso é feito de modo que cada pessoa se despe de sua condição de classe e se nivela perante as demais. Os votos dos capitalistas valem tanto quanto os votos dos trabalhadores, predominando, assim, a igualdade jurídica formal. Contudo, é aí que reside a máxima ilusão da democracia liberal, pois ela cuida de transferir essa “vontade popular” consubstanciada em milhões de votos atomizados para o âmbito da representação parlamentar, ou seja, para um espaço de Estado que é constituído para organizar as relações entre os representantes das classes e de suas frações, para ser um balcão de negócios dos partidos da ordem atrelados a interesses determinados.
Por essa lógica, a democracia liberal pretende sequestrar a política, monopolizá-la, confiná-la ao terreno institucional. As mudanças políticas devem ser reivindicadas pelo voto nas urnas, e de vez em quando se admite algumas exigências por fora do calendário eleitoral, mas desde que não comprometam a chamada ordem pública, isto é, desde que não abalem o cotidiano da dominação capitalista.
Em adendo, a democracia liberal trabalha com a chamada separação ou divisão dos poderes. De fato, o poder de Estado se legitima pelo sufrágio, mas o seu exercício se pauta por regras constitucionais que definem uma divisão de trabalho no interior do aparato estatal, de tal sorte que, segundo os liberais, chegar-se-ia a um mecanismo harmônico de freios e contrapesos, o único modo de se evitar o arbítrio e a tirania. É por isso que as leis, expressão peculiar do poder de Estado, passam por um processo de criação previamente estabelecido pelos órgãos legislativos, são sancionadas e aplicadas pelos órgãos executivos e submetidas a apreciação judicial, em caso de lide, pelos órgãos jurisdicionais. Fizemos aqui uma simplificação um tanto rude, mas que serve ao nosso propósito de ilustrar essa organização funcional do exercício do poder nas democracias liberais.
É importante observar que a separação de poderes é uma divisão funcional e operante no interior do Estado, não se trata de uma miragem ou de um mero discurso, muito embora ela desempenhe, também, uma função ideológica. Não há aí nenhum paradoxo, já que o caráter ideológico de um fenômeno ou categoria social em nada afasta a sua existência objetiva e material, antes a pressupõe. Na “câmara escura” da ideologia, o objeto projetado distorcidamente (isto é, ideologicamente) existe de fato, ele é real, mesmo que a sua expressão oficial seja falsa, enganosa. Nenhum “espelho mágico” pode criar uma imagem do nada, só lhe é dado fazer distorções.
Numa leitura marxista, podemos identificar que, nas democracias liberais, destaca-se o parlamento como aparelho de Estado dominante no interior da constelação de aparelhos apresentada pelo regime. Nas variações presidencialistas, o parlamento se encontra um tanto eclipsado, mas ele não deixa de dar a última palavra no funcionamento efetivo do poder. E em caso de crises políticas, de impasse entre as forças atuantes, as engrenagens do aparato mais desarranjadas acabam cedendo lugar a outras que se encontram menos afetadas no jogo político. É assim que vemos, por exemplo, a entrada em cena, com destaque acima do normal, de órgãos menos ligados às correntes partidárias (se não individualmente, ao menos institucionalmente), como o Judiciário e determinadas instituições policiais.
Entretanto, seria um erro imaginar que o Judiciário ocupa apenas uma posição auxiliar no regime em questão. Isto é verdade para o jogo político, mas não para o cotidiano da luta de classes. Na democracia liberal, prevalece a judicialização dos conflitos, no sentido de se enquadrar os antagonistas sociais como sujeitos jurídicos que devem observar os direitos alheios e que devem evitar o abuso de seus próprios direitos. Assim como no sufrágio, as classes desaparecem, e o que se tem nesse arranjo institucional liberal é apenas um confronto entre cidadãos litigantes, pouco importando se pertencem a uma classe explorada que busca resistir à exploração ou se pertencem a uma classe exploradora que pretende ampliá-la. E cabe ao Judiciário, nesses conflitos, colocar-se como um terceiro pretensamente imparcial e decidir a lide, fazendo com que a luta de classes sempre seja desempenhada no terreno seguro do Estado de Direito.
No Judiciário, a repressão política dá-se com ares de punição a crimes comuns. Em seu suposto “pluralismo”, a democracia liberal não reconhece crimes políticos. Não há, como nas ditaduras, a figura da subversão e dos inimigos do Estado. Mas isso não quer dizer que ela seja generosa com os movimentos contestatórios que estremecem a mansuetude da dominação burguesa. O que ela faz é enquadrar movimentos políticos em categorias do direito penal comum, ou seja, adotando um modo de reprimir que é aplicável virtualmente a qualquer cidadão, sem diferenciações ou privilégios. Esse enquadramento, todavia, é conduzido pelo aparato policial e chancelado pela jurisprudência contra a única classe que tem necessidade de mobilizar-se constantemente, o proletariado. Assim sendo, a violência “democrática”, “liberal”, é uma forma dentre outras de violência de Estado, e que mesmo adotando um discurso neutro e universal, só pode ter como destinatário a classe subalterna. É a igualdade jurídica formal a serviço de uma coerção estatal absolutamente desigual.
A democracia liberal e suas contradições
Para completar esse panorama geral, é indispensável recordar um fato que muito se quer esquecer: a democracia liberal, enquanto um regime político determinado, enquanto uma manifestação concreta do Estado, não deixa de ser Estado, ou seja, não se furta ao cálculo de interesse de classe e de poder. Ela não perde, assim, as suas atribuições repressivas e ideológicas, apenas as processa à sua maneira. Tampouco ela é indiferente ao nível de intensidade da luta de classes e às peculiaridades de cada formação social, o que envolve, inclusive, questões raciais, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade etc.
Ao levarmos isto em conta, teremos uma visão muito mais sóbria a respeito da democracia liberal. Mais do que isso: teremos condições de compreender porque os regimes democráticos mundo afora, inclusive nos países mais desenvolvidos, conviveram longamente com a escravidão, com a segregação racial, com a exclusão de direitos das mulheres, com o colonialismo, com o genocídio de povos indígenas, com a suspensão de certas liberdades etc. Enquanto forma política de dominação numa dada formação social capitalista em condições de normalidade, isto é, sem abalos que levem a soluções bonapartistas, ditatoriais ou fascistas, por exemplo, a democracia liberal condensa em si as determinações políticas do seu tempo e lugar e as acomoda, não sem contradições, dentro da sua aparelhagem institucional.
Em sua apologia à democracia liberal, os ideólogos do regime, seguidos de perto pela esquerda reformista, deixam de lado que esse modelo institucional, apesar de apregoar a igualdade formal, é de todo compatível com as mais aberrantes iniquidades. Veja-se, por exemplo, a questão LGBT: trata-se um amplo segmento populacional que se encontra privado de diversos direitos civis na maior parte do mundo pelo simples fator de sua orientação sexual. E o que dizem os reformistas? Que a democracia ainda não amadureceu o suficiente, mas que, cedo ou tarde, ela contemplará plenamente essas pessoas. Não lhes perturba o fato de um regime que se pretenda “democrático” possa admitir esse tipo de discriminação por tanto tempo.
E isso não é tudo. Ao ignorar a simples circunstância de que a democracia liberal traz em si todas as determinações da forma política do Estado, os liberais e os reformistas novamente são obrigados a observar casos de violência estatal ou de condutas ilegais por parte dos próprios agentes do Estado como um problema de falta de consolidação da democracia. Esse regime, segundo eles, ainda não atingiu a sua plenitude, a sua pureza, mas quando isso ocorrer, os agentes policiais e os representantes políticos estarão completamente subordinados à lei, sob pena de serem sancionados pelo Judiciário. Eis uma visão romântica e idílica sobre o regime político atual, uma visão que despreza o fato de que o Estado necessariamente possui uma vida dupla, de que ele, enquanto aparato orientado por um cálculo de poder e interesse, transita entre a legalidade e a ilegalidade conforme a conveniência. É assim, a título ilustrativo, que se dão as políticas que deliberadamente extrapolam o uso da força contra manifestantes e contra a população pobre: trata-se de um objetivo político de intimidação que não aparece em nenhum programa de governo e em nenhum código disciplinar, mas que faz parte do funcionamento estatal regular.
Pois bem. E o que essas reflexões sobre a democracia liberal podem agregar para a compreensão das noções de golpe e impeachment? Em primeiro lugar, podemos concluir que o cometimento de ilegalidades pelo próprio Estado não significa uma ruptura no padrão de funcionamento do regime. As ações estatais que ultrapassam os limites da legalidade, mesmo sob a democracia liberal, fazem parte da lógica de Estado e são cotidianas. O que ocorre é que, em situações de crise política, o sistema político (a constelação partidária em sua correlação de forças interna, em seus compromissos e disputas) revela as suas entranhas, seus nervos ficam expostos. Negociações em torno de cargos e dotações orçamentárias, articulações entre parlamentares e membros de cortes superiores, alianças e traições, subornos e chantagens, enfim, toda a crueza do jogo político nos marcos da ordem se mostra ao mundo, saindo de seu confinamento subterrâneo. Esta é a vida rotineira do Estado, e nem por isso a democracia se transforma em outro regime. Ela é aquilo que ela se apresenta normalmente, mas também, e principalmente, aquilo que ela esconde, e que, por vezes, vem à tona.
Nesse sentido, não se pode imaginar que um ato ilegal no jogo político seja um golpe, como se fosse algo que questionasse toda a lógica do regime liberal. Um golpe, para ser, de fato, uma quebra no padrão de funcionamento desse regime, exige uma intervenção externa aos aparelhos de Estado que conduzem prioritariamente o jogo político na democracia liberal. O simples desrespeito às regras do jogo se choca com a película do liberalismo, com a sua imagem aparente, mas em nada prejudica o seu conteúdo, e que consiste na administração dos conflitos de classe (interclasses e intraclasses) sob uma dada configuração de aparelhos estatais hegemônicos. Somente uma medida de força militar poderia desmontar e reconstruir, sob nova forma, o modelo de funcionamento dessa aparelhagem.
Cumpre perceber, pois, que um impeachment mal fundamentado juridicamente não é mais golpista ou menos golpista do que uma decisão do STF que contrarie uma disposição constitucional, e como já ocorreu em diversas oportunidades. A observância das atribuições e da divisão liberal dos poderes dá corpo à normalidade do regime democrático, pois é esse critério formal que instrui esse tipo de regime. Diferentemente de uma intervenção militar não autorizada, que reposicionaria o aparelho dominante (“troca” do parlamento pelas forças armadas) sem uma tramitação institucional interna e autorregulada.
Além do mais, não se poderia argumentar que o impeachment contraria o princípio do sufrágio, dado que a deposição do governante por essa via se dá a partir de um órgão composto por representantes eleitos. Do ponto de vista formal, a mesma soberania que elegeu um presidente também elegeu o congresso que poderia vir a depô-lo. E mais: por mais que o neguem, o sucessor “golpista” de Dilma assumiu a presidência precisamente por compor a chapa eleita (PT, PMDB e companhia). Aqueles que o negam, aliás, corroboram a absurda defesa processual de Temer perante o TSE, segundo a qual sua campanha eleitoral seria independente da campanha do PT. Ignoram que, até mesmo na superficialidade no direito eleitoral, Dilma e Temer são indissociáveis. Politicamente, nem se fala: o elo programático é muito mais sólido, e ele foi construído com muito zelo ao longo dos 14 anos de governo frente-populista.
O impeachment e o jogo político
Por fim, deve-se notar que o impeachment é um processo fundamentalmente político, e que mesmo que a constituição indique a hipótese de crimes de responsabilidade, isto se trata, novamente, apenas da aparência do mecanismo. Afinal, a apuração técnico-jurídica de determinado crime incumbiria a um órgão judicial, como se infere da divisão interna de trabalho no interior do Estado. Um julgamento que se dá por parlamentares só poder ser um julgamento político, pois o seu resultado e mesmo a sua tramitação serão o produto não de um exame técnico, mas de uma dada correlação de forças partidária. A imputação de prática ilegal é apenas uma justificativa formal para chancelar uma linha política de manutenção ou derrubada de um presidente. Não reconhecer isso é desconhecer a natureza dos órgãos parlamentares e nutrir uma concepção irreal do jogo político – o que justamente se vê agora por parte daqueles que fizeram da realpolitik uma profissão de fé.
Uma característica política de nossa esquerda, aliás, é o realismo político seletivo, especialmente por parte do reformismo mais bruto (ou seja, aquele que não passou por tentativas de sofisticação por meio de elementos “marxistas”). Pois os sóbrios realistas da política, ao contrário dos “utópicos” e irresponsáveis revolucionários, sabem perfeitamente que o seu jogo político exige alianças espúrias e concessões programáticas de todos os tipos. Esses geniais analistas não se envergonham de defender a “necessidade” de se tomar os rumos que o PT tomou (e que hoje são tomados pelo PSOL em ritmo acelerado). Mas quando se inserem no grande jogo da sordidez do sistema político, fazendo troça daqueles que se recusam a fazê-lo, eles se submetem às situações que são inerentes a esse sistema, a começar pela corrupção em suas múltiplas formas e pela negociação permanente com o banditismo parlamentar. E eis que, quando são descartados de um jogo que acreditavam jogar muito bem, quando são derrotados no terreno que adotaram como um lar aconchegante, decidem gritar “golpe!” e colocar, no sujeito passivo da frase, toda a classe trabalhadora. E pior: são acompanhados de perto, nessa vigarice, por todo o neorreformismo e pelo centrismo, o qual encontrou na oposição ao impeachment um pretexto perfeito para capitular de vez à frente popular: não em nome de um governo que supostamente não defendem, mas em nome do mandato de Dilma cassado “irregularmente”. Ao seguir esse caminho, porém, alimentam as ilusões democráticas e fazem a apologia da normalidade democrático-liberal.
Chegamos, assim, numa curiosa situação em que é preciso explicar o que é “pragmatismo” aos “pragmáticos”, e também àqueles que capitulam aos pragmáticos. É uma pena que os quase 14 anos de conciliação de classes e adaptação parlamentar tenham lhes ensinado tão pouco de seu próprio ofício. Sejamos didáticos: o parlamento é um órgão essencialmente político que, como tal, só toma decisões políticas. Isso significa que a decisão de afastar ou manter um governo, política por excelência, só pode se dar a partir de critérios e negociações políticas. Tudo o mais é contingente. Os reformistas dizem: “Dilma era inocente e, ainda assim, foi afastada. Logo, houve um golpe”. Foi condenada por “razões políticas”. Ora, pode ser espantoso para alguns, mas a última coisa que poderia levar os parlamentares a votarem contra ou a favor do governo era a sua opinião pessoal sobre a inocência da presidenta acerca da acusação de crime de responsabilidade. A questão da queda ou da manutenção do governo foi calculada politicamente por cada deputado e cada senador conforme sua localização no sistema político. A fachada argumentativa para se colocar publicamente era uma questão de pura contingência, tática mesmo. E isso vale para qualquer votação no Congresso. Vejamos o caso atual da reforma da presidência: não há dúvidas de que a vasta maioria dos parlamentares é favorável ao projeto de Temer, mas isso não os leva a endossá-lo automaticamente. Eles podem tanto recuar por se sentirem intimidados pela pressão popular, ou mesmo se colocarem como oposição temporária para exigir do governo determinados benefícios para si mesmos ou para suas legendas.
Imaginemos que o impeachment tivesse sido rechaçado pelo Congresso. Seria porque os parlamentares teriam, ao final, decidido pelo respeito à democracia, à legalidade, à legitimidade de Dilma, ou eventualmente a outras virtudes burguesas semelhantemente hipócritas? De modo nenhum. O cálculo político seria o mesmo, apenas o desfecho seria diferente. Pois a articulação de Lula para tentar salvar o governo, como se sabe, foi feita com base em ofertas de cargos e outros benefícios, e não com base na verborragia liberal. É evidente que, diante da situação política do país, as propostas de Lula foram menos convincentes que as de Temer. O cálculo político, assim, pendeu favoravelmente ao então vice-presidente.
Mesmo assim, dirão os apologistas do regime, o parlamento não poderia depor o governo eleito, na perspectiva do presidencialismo, sem incorrer em golpe. Cabe, pois, informá-los de que, mesmo na modalidade presidencialista, a democracia liberal prima pela proeminência do poder legislativo sobre o poder executivo. Essa foi uma das obsessões fundamentais de todas as revoluções burguesas no seu processo de construção de um aparato de Estado que atendesse às exigências e determinações do modo de produção capitalista. O objetivo era criar condicionamentos ao poder policial, administrativo e fiscal do Estado, o que, na linguagem liberal, transparece como um imaginário equilíbrio de poderes iguais entre si. A divisão desses poderes em instâncias apartadas até existe e funciona diariamente, mas a ideia de um equilíbrio entre elas é falsa.
Nessa ordem de considerações, entende-se que ao parlamento é dado interromper um mandato presidencial porque a esfera parlamentar congrega o conjunto das representações burguesas, instituindo-se como uma praça comum de todos os grandes capitalistas, uma arena onde os principais capitais podem se fazer representar. É daí que advém a sua centralidade. Mesmo num modelo de presidencialismo de coalizão, não há espaço suficiente no executivo para se agregar todas as correntes de interesse burguesas. Por essa razão, qualquer constituição liberal confere ao legislativo, a seara burguesa mais universal na sua representatividade, a prerrogativa de destituir a presidência, ainda que variem os instrumentos e procedimentos. E essa destituição, por sua vez, só será destituída caso se encontre numa posição de isolamento político e social. Pouco importa, sob o ponto de vista da luta real entre os antagonistas no sistema político, se houve cometimento de crime ou não. Um governo que cai é um governo que não se sustenta, que carece de aliados em número suficiente para mantê-lo no jogo. A escolha dos motivos “oficiais” do impedimento é secundária. O que importa, na realidade, é a disputa encarniçada pelo poder. Portanto, o impeachment no caso de Dilma, apesar de conter fragilidades nas suas teses jurídicas, enquadra-se na dinâmica política de prevalência do poder legislativo. E o que conta, na vida real, é esse elemento político material (o modo como os órgãos de poder se relacionam entre si), e não os pareceres dos juristas sobre a legalidade ou ilegalidade de determinados atos e procedimentos.
À guisa de conclusão
Com essas observações, esperamos ter demonstrado que o impeachment de Dilma Rousseff não pode ser qualificado – ao menos não numa visão marxista – como golpe. A argumentação jurídica a respeito é simplesmente incapaz de contemplar as determinações políticas do regime democrático-liberal. Por óbvio, daí não se extrai, para os marxistas, uma celebração quanto ao resultado final do impeachment (Temer à frente do governo), até porque se trata de uma continuidade do projeto político que vinha sendo conduzido pela frente popular (por mais que as bases do ex-governismo insistam em ser indulgentes com o neoliberalismo petista e intolerantes com o neoliberalismo alheio). Há que se combater duramente o atual presidente, e inclusive lutar pela sua derrubada, independentemente de como ele chegou ao poder. Outra coisa, muito diferente, é anunciar um golpe. Proclamar aos quatro ventos que a democracia foi violada é não só um erro teórico, como também uma fetichização do sufrágio e da própria democracia liberal (já que se condiciona o fim de um governo a novas eleições). E é ainda um argumento de terrorismo político, uma aposta frentepopulista no medo ancestral do retorno das elites – como se elas tivessem abandonado seu posto em algum momento.
E para que não haja margens para interpretações desonestas sobre o que estamos afirmando: o impeachment é, em qualquer situação, uma saída conduzida pelas classes dominantes. Ele é uma ferramenta da democracia liberal, tanto quanto seus órgãos e suas instituições, e que resulta da divisão dos poderes, da própria proeminência do parlamento sobre o executivo em última instância e até mesmo do próprio sufrágio. Mas cuidado, reformistas, com a crítica radical do impeachment, pois ela pode levar à crítica radical do liberalismo político que lhes é tão caro!
Não banalizemos, pois, o termo “golpe”, tampouco confundamos as manobras e trapaças nas lutas interburguesas com as restrições às liberdades das massas, que já são mínimas. Não há nenhuma fração burguesa interessada em promover tais liberdades – nem por parte do bloco encabeçado pelo PT e nem por parte dos segmentos da direita mais tradicional. Muito pelo contrário. Todos esses grupos, que hoje travam um embate feroz, estiveram unidos para restringir ainda mais os direitos de manifestação e organização das massas (fortalecimento da ABIN, UPPs, Copa do Mundo, lei “antiterrorismo” e por aí vamos). Os reformistas se opuseram a tais medidas, mas não falaram em golpe. Reservaram essa palavra para a derrocada de uma frente popular isolada e socialmente desgastada, o que lhes parece muito mais dramático do que o recrudescimento do aparato repressivo sob a gestão petista, por exemplo. A história se encarregará de registrar nas suas atas a infâmia dessa capitulação, a qual se deu sob a justificativa da chantagem campista e frente-populista – a velha chantagem de sempre – do “ou nós, ou a direita”.
Este artigo é uma atualização do texto “Democracia, golpe e impeachment”, originalmente publicado em abril de 2016 nesse link.